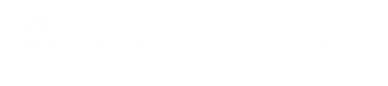No sábado passado, teve lugar mais uma sessão do Ciclo Cultural “Regresso ao Parnaso”, no Centro Mário Cláudio, em Venade (Paredes de Coura), dirigido pelo professor Cândido Oliveira Martins, docente e investigador da Universidade Católica Portuguesa (Braga). O escritor homenageado foi António Carlos Cortez, nascido em Lisboa, em 1976. O autor é sobretudo poeta, além de professor, crítico literário e ensaísta, com forte intervenção na imprensa em matéria de Educação e Cultura. Desde 1999, publicou cerca de 15 livros de poesia, tendo celebrado 25 anos de trabalho nesta área da poesia. Nesse espírito de celebração de 25 anos de criação literária, António Carlos Cortez acaba de publicar o livro de poesia intitulado Os Sonetos (25 anos de poesia: 1999-2024) (Gato Bravo, 2024). E dialogando com livros anteriores, o seu mais recente livro de poesia, Condor (Caminho, 2025), renova o lugar do poema longo. Mais recentemente, António Carlos Cortez publicou os ensaios Crítica Crónica – educação, cultura e política (Guerra e Paz) e Voltar a Ler – ensaios sobre Poesia (Gradiva); o romance Um Dia Lusíada (Caminho); e ainda o livro de contos Cenas Portuguesas (Caminho). No prelo, tem para publica imediata: Para Ler Camões: 50 Poemas Comentados, no âmbito das celebrações dos 500 anos do nascimento do Poeta. Nesta pequena amostra das suas publicações revela-se à saciedade a amplitude dos interesses deste autor, e sobretudo o seu profundo empenho, ao intervir criticamente, na imprensa periódica e em diversos ensaios, sobre os rumos da educação e da cultura, da sociedade e da política na atualidade, em defesa de uma maior e sólida formação humanística (Literatura, História, Filosofia, Artes, etc.). Em sucessivas intervenções, o autor não se cansa de enfatizar o lugar ímpar das Humanidades na formação dos jovens cidadãos. O lento apagamento das Humanidades explica em grande parte o falhanço atual na Educação. As últimas publicações referidas são uma forma de o escritor e crítico António Carlos Cortez celebrar e revisitar a sua considerável obra poética ao longo de um quarto de século, oscilando entre a forma de matriz clássica e a reinvenção da palavra poética. Aliás, essa é uma das diversas marcas da sua escrita – a relação entre a tradição e a contemporaneidade. Aproveitámos o pretexto da sua presença num evento cultural no Centro Mário Cláudio para realizar esta entrevista.
O António Carlos Cortez tem uma obra extensa como poeta, desde final da década de 1990, tendo publicado uns 15 livros de poesia. Retrospetivamente, e em jeito de balanço, como olha hoje para esse já longo percurso?
O meu percurso de 25, 26 anos de poesia é o resultado de uma entrega natural ao que, desde cedo, me marcou: as artes e a literatura. É um percurso de fidelidade a uma trindade que, no fundo, é a trindade que aprendi nas aulas da minha mestra, Paula Morão, que recebeu essa trindade de seu mestre, Manuel Gusmão: Memória, Tradição, Historicidade. Das formas fixas às formas modernas, mais livres, nunca quis fazer tábua-rasa do passado literário e, na verdade, ao contrário do que a minha geração em alguns casos fez, este meu caminho de palavras é consequência de algo simples: homenagem à literatura.
É sempre uma tarefa exigente, mas sempre tentador perguntar – quem foram os poetas portugueses (e estrangeiros) mais representativos na sua biblioteca afetiva e nesse percurso de escrita?
Camões e Sá de Miranda, Cesário e Baudelaire, Rimbaud e Jorge de Sena, Eliot e Pound, Fiama e Ruy Belo, Lorca e Leonard Cohen, Carlos de Oliveira e Gastão Cruz, Nuno Júdice, enfim, são muitas as referências. Um poeta espanhol, Alfonso Costafreda, é igualmente, uma inescapável voz. Há muitos outros: Kavafys e Gamoneda e Pavese, eis outros que admiro e leio.
Por que razão Gastão Cruz alcançou um especial ascendente na sua relação com a poesia portuguesa contemporânea, motivando até o seu recente doutoramento sobre a escrita deste autor? E, já agora, como vê as atuais tendências da poesia portuguesa contemporânea?
Fui amigo de Gastão Cruz ao longo de 24 anos. Conheci-o por intermédio de Lídia Jorge em 1998, quando tinha um pequeno conjunto de poemas que queria publicar. David Mourão- -Ferreira foi o poeta que procurei cerca de 3 anos antes, mas a sua morte em 96 inviabilizou aquele que teria sido um dos encontros que mais desejei ter. Gastão era um poeta de que conhecia alguma poesia e cujas imagens e rigor expressivo me fascinavam.
É, para mim, na senda de David e de Camões, na senda de Carlos de Oliveira e de Blake, de Rimbaud e de Jorge de Sena, de Pessoa e de Baudelaire, entre outros que ele admirava, o mais penetrante leitor das tensões e das contradições do nosso tempo. A sua obra, que se estrutura por ciclos, ou trilogias temáticas, tem uma tal coesão interna, um estilo de tal modo clássico e simultaneamente inventivo, é uma poesia de tal forma aguda no modo como diz o tempo e o amor, a morte e a fúria de viver, a nostalgia e o sentimento trágico do humano que ele, Gastão, cedo se tornou meu mestre.
É, sem dúvida, um dos maiores poetas dessa linhagem rara da poesia especulativa em Portugal. A minha tese sobre “As Razões da Poesia ou o Mal Total em Gastão Cruz” é uma leitura da sua obra a partir do problema do mal como doença, fenómeno necessário à própria existência da poesia, em si mesma considerada por Gastão como “vírus”, veneno a que o poeta não escapa, porque esse discurso venenoso é, paradoxalmente, o único paliativo que o poeta tem face ao real do mal. O real da realidade do mal que é, antes de mais, um mal da modernidade: o da corrupção da linguagem a que o poeta responde, escrevendo, recriando essa linguagem e purificando-a. A poesia de Gastão vista sob a óptica da fenomenologia do Mal, como o compreenderam Ricoeur e Gabriel Marcel: fenómeno que só a poesia, a metáfora, a imagem, podem verbalizar.
Convivi com GC e dele recebi um magistério inolvidável. Poemas que sei de cor, ele mós ensinou. A perspectiva crítica que tenho do que seja a poesia deriva do pensamento crítico que de Gastão e de Ramos Rosa, de quem fui também amigo, recebi.
Precisamente por ter essa formação, esse legado de dois poetas-críticos centrais no século XX, e também porque Nuno Júdice é o terceiro vértice desta trindade poética que me deu muito, não posso deixar de olhar a actual poesia com muitas reservas. Há uma inflação do talento relativamente a certas vozes poéticas que certo jornalismo cultural guinda ao grau de grandes revelações. Mas o que vejo é que, salvo duas ou três excepções, não há, na poesia dos últimos 15 anos, quem verdadeiramente tenha um saber de oficina poética e quem, a par disso, arrisque na criação de um mundo verbal próprio, original, único.
Aponto duas ou três excepções de poetas com menos de 40 anos: Miguel Royo, João da Cunha Borges e Assunção Varela. Uma descoberta recente, Sofia Sampaio, eis uma voz a reter. O mais que se publica parece-me por vezes de um prosaísmo sem imaginação alguma, sem qualquer domínio sintáctico, que penso se esta enxurrada de gente a escrever e a publicar poesia alguma vez lê. E há, nas gerações mais novas - os que têm hoje entre os 20 e os 35/40 anos uma pretensão que, não raro, me irrita profundamente. Podem até publicar as linhas que escrevem. Mas poesia? Isso é raro. E não é o que por aí se lê e vê.
Uma das suas obras poéticas mais recentes – “Os Sonetos: 25 Anos de Poesia – 1999 – 2024” (Gato Bravo, 2024) celebra justamente um quarto de século consagrado à escrita poética. Por que razão escolheu a antologia de 125 sonetos, uma forma de matriz clássica (a que se somam 4 sonetos inéditos e 4 sextinas] para marcar essa data?
Esta edição não teve distribuição alguma. É uma tiragem de 150 exemplares e não fiz qualquer lançamento. Farei em Setembro, eventualmente. E a razão de escolher 125 sonetos prende-se com o fascínio e exigência que está forma regular sempre sobre mim exerceu. Leio Camões com regularidade. Posso dizer obsessivamente. Assim como poetas nossos e de outras literaturas que são grandes reinventores desta forma. Destaco David e Sena, Gastão e Octávio Paz.
Poetas brasileiros, de Drummond a Paulo Henriques Britto, de Paul Valery a Mário Benedetti (“El Soneto de Rigor”), sem esquecer Graça Moura ou Franco Alexandre, muitos são os fazedores do soneto que admiro pela sua mestria e poder de manipulação sintáctica que o soneto exige. Ora, em 25 anos de poesia o ritmo e a exigência do soneto sempre estiveram comigo. Seleccionei sonetos que constavam de livros meus. Outros poemas, reescrevi- -os para que fossem quase-sonetos, como que para homenagear Carlos de Oliveira, outro mestre.
O poeta brasileiro Manoel de Barros escreveu, com humor, que a poesia era um “inutensílio”. Num “tempo indigência” (para usarmos uma célebre imagem de Hölderlin, retomada por Hélia Correia), qual o lugar da poesia hoje?
O lugar da poesia tem de ser hoje não só um não-lugar (não falo no sentido que lhe dá Marc Augé), mas o lugar da poesia tem de ser o lugar do não. Não ao facilitismo, não à falsidade poética, não ao artificialismo, não à palavra corrompida. A poesia será um inuntensílio naquele sentido mais alto de ela ter de ser choque, estranhamento, rigor criativo, surpresa e objecto textual capaz de agitar o mundo interior de quem lê.
Além de poeta, António Carlos Cortez é também crítico e ensaísta, tendo publicado recentemente o volume “Voltar a Ler – ensaios sobre poesia, cultura e educação” (Gradiva, 2018). Perspetiva a ampla crise cultural que atravessamos como o resultado de um falhanço da educação humanística, entre outros fatores. Pode explicar melhor esta argumentação?
A educação falhou e falha sempre que se desvirtua o papel do professor e, como hoje, quem ensina se vê manietado numa camisa de forças burocrático-gestora. O que digo é simples: a menorização das humanidades, a diluição do peso, nos curricula, de disciplinas como Literatura, Filosofia e História, Artes e música, tudo isso se traduz no quotidiano cada vez mais violento em que vivemos. A desumanização é fruto da digitalização social. As pessoas, mergulhadas nos seus ecrãs, vítimas desta ditadura do lucro que apenas favorece os Musk e os Oligarcas deste mundo, tudo isto se conjuga com um programa educativo global que tem transformado as crianças e os adolescentes e os jovens universitários em gente insensível, mecânica, sem linguagem, completamente rendidos ao mais sórdido individualismo.
Ora, se não se lê, se não se sabe História, se não se tem o habito de ler, escrever, reflectir, se tudo é banal, se tudo é império da opinião e ódio ao verdadeiro conhecimento, então falhámos. Professores sem hábitos de leitura de ensaio, de literatura, sem curiosidade, sem um autêntico amor à vida, é isso que justifica - para além das responsabilidades diretas de uma classe política ignorante, ambiciosa e iletrada - a degradação geral do país. Um país faz-se com livros, com cultura, não com futebol e ecrãs. Não com a violência dessa música que apela ao sexo pelo sexo, que rebaixa o homem e a mulher ao grau da mais nefanda animalidade.
Não é de hoje o preocupante diagnóstico segundo o qual quase não temos o exercício da crítica literária da imprensa portuguesa. Diminuíram claramente os suplementos ou espaços consagrados; e rareiam os nomes de críticos reconhecidos o preencher regularmente esses espaços, contrastando com o que ocorria algumas décadas antes. Como analisa este estado da crítica literária?
Houve um tempo em que a crítica literária existia porque, no fundo, em plena ditadura, a literatura foi uma força de vanguarda e de combate contra o obscurantismo. Contra o fascismo. Suplementos literários, magazines, até mesmo programas de televisão sobre poesia, livros, isso foi num tempo em que tivemos muita gente a combater, à esquerda e numa direita de raiz social-cristã, Salazar e Caetano e os restantes tiranos do regime. Havia, por outro lado, uma forte consciência ética. Os jornais eram organismos de defesa de uma ideia hoje completamente em crise: cultura do espírito. Em nome do progresso e porque tudo é veloz, porque não formámos leitores, temos hoje uma crise sem fim no jornalismo cultural. Quiseram computadores, não foi? Num país sem o hábito do livro, o resultado sempre pareceu óbvio. A figura do crítico é levada nesta enxurrada de esboroamento da cultura letrada. Há mesmo o ódio, até na academia, aos que procuram escrever, pensar, ter memória, viver, enfim, em função do livro.
O que aconteceu foi que, mercê de novas formas de comunicação mais rápidas, e porque nos ludibriámos, o jornal, o papel, a caneta, o sublinhar, o pensar a linguagem, o meditar e pesar as palavras, o fazer crítica, o examinar, o exigente convívio com o ensaio – tudo isso acabou. Portanto, não nos admiremos: num século XX que foi um século de intelectuais, o que vivemos hoje é o tempo do novos impressionismos críticos. Das teorias de género à questão das identidades, o texto na sua linguagem foi secundarizado. Quem persiste fazendo críticas em jornal não pode senão ser fiel. Ou então vende-se. Não é o meu caso, que persisto em fazer crítica de poesia e em escrever em jornais. Quero é ler e escrever. Honrar a linhagem dos poetas- -críticos. Ter memória. Não pactuar, insisto.
Além das facetas referidas, António Carlos Cortez é também professor, com bastantes anos de experiência docente, acabando de publicar “O Fim da Educação – crise, crítica, ensino e utopia” (Guerra e Paz, 2025), aliás na sequência de uma intervenção crítica, severa e continuada sobre o tema. Quais aos caminhos de solução possível para este diagnóstico de falência do nosso sistema de ensino?
Serei breve: o único caminho é o do regresso aos textos e aos livros nas aulas. Mostrar aos estudantes, hoje sem qualquer memória, ignorantes em relação à História e à Literatura, que colecções, edições, que títulos e textos, que poemas e romances, peças de teatro e musica são o nosso chão comum. O único caminho é recusar as luzes impuras do suposto progresso digital. A digitalização é o caminho para o desemprego via automatização do trabalho. Na educação será o fim da nossa profissão. E será o fim da própria ideia de paideia, conceito fundador do ensino. Quem defende o digital é, no fundo, inimigo da humanidade. Um frio fazedor de folhas Excel, um parente próximo de Eichmann.
Por fim, correlacionadamente, sabemos que tem no prelo um volume com preocupações direcionadas para um exemplo canónico da educação literária, justamente em ano de comemoração dos 500 Anos do Nascimento de Camões — “Para Ler Camões: 50 Poemas Comentados”. Por que fazem falta obras norteadas por este objetivo pedagógico-didático?
Esse meu livro sobre Camões é um contributo para a formação de professores. Sem a leitura do género ensaio, nada se rigoroso se pode ensinar. Todo o professor deveria ler esse ensaio de Jacinto do Prado Coelho, “A educação do sentimento poético”. Está lá tudo. O que e como fazer. Quem conhece esse texto? Ora, esse meu livro de leituras de poemas do Camões lírico é para todos quantos não queiram cair em novas formas de superficialidade interpretativa.
É uma homenagem a Aguiar e Silva, a Manuel Gusmão e Óscar Lopes, a Nuno Júdice e Gastão Cruz e a professores com quem aprendi e aprendo: Paula Morão, Helena Buescu, Artur Anselmo, Paula Costa, Isabel Cristina Mateus, Vítor Serrão. Tenho sorte: tive os meus mestres. Sem isso, como teria sido? Sou professor por absoluta escolha de vida: dedicação à cultura. A Camões. À fiel dedicação e à honra de estar vivo. E admitindo que erro, que falhou, que ser humano é ser e estar na vida sem presumir que tudo o que dizemos é o certo. A literatura, se é amada, será sempre lição. Vida.